Informação
Descrição
A SOBRE foi resultante de mobilizações que surgiram a partir da REBRE, formada em 2010 para promover colaboração técnica e científica e a troca de conhecimentos entre os diversos atores e interesses envolvidos nos esforços de restauração ecológica no Brasil.

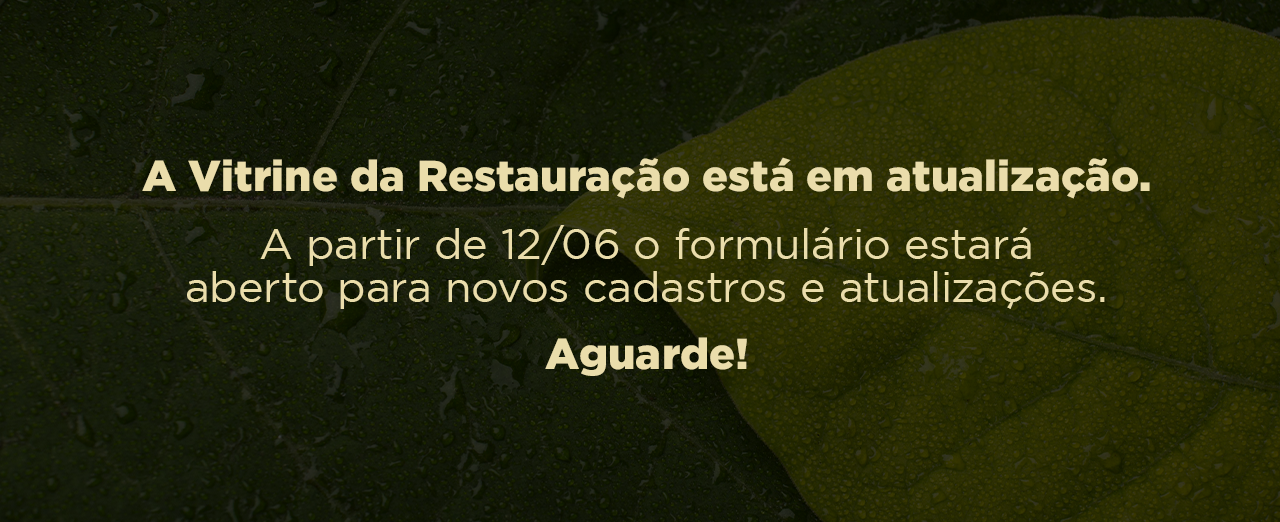
.png)